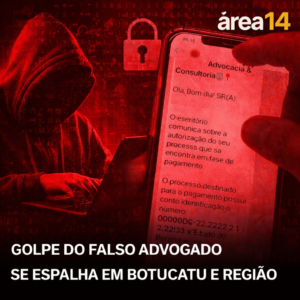Escalei a montanha, — mas ela não era feita de pedras ou picos nevados. No seu topo havia uma Estação Ferroviária, onde, menino, acreditava que cada pé de café, daquela avenida que nos levava ao seu topo, tinha raízes compridas que tocavam o coração da Terra, sem falar naquele velho bebedouro que guardava segredos inconfessáveis de gerações.
Ali, no jardim, bem no centro, sob a sombra das figueiras e em volta do coreto, eu ouvi cânticos que pareciam vindos de anjos: eram os sons e sopros vindos de clarinetes, tubas, tarolas, bumbos e trombones, guiados pelos grandes maestros que por ali passaram, harmonizados com os gritos das crianças que, juntos, enviavam energias aos céus como um louvor à paz.
Por vezes, a cidade parecia um pedaço do céu: os sinos da Matriz marcando a hora da missa, o Paço nos avisando sobre o tempo escorrendo pelas mãos, o cheiro do pão fresco das padarias e do café torrado, invadindo as ruas. O vaivém dos jovens em frente a fonte com sua carranca ou na sombra do seu caramanchão, na busca do seu par — tudo com uma harmonia que lembrava um bálsamo. Mas, como em um poema, dentro de mim crescia sempre a nostalgia: a saudade de algo maior, a busca pelo “cheiro da terra”.
Terra vermelha, o nosso massapé, sempre generosa, marcada pelos passos dos barões do café e pela luta incansável de seus colonos e boias frias.
Terra que deixava também marcas nos pés descalços das crianças que jogavam bola nos seus campinhos de terra, onde rolavam bolinhas de gude, giravam piões que levavam sonhos de uma vida ainda por construir.
Terra onde, homens e mulheres se amavam e se cansavam do amor, como em qualquer lugar; brigavam e depois se reconciliavam, choravam e riam no interior de suas casas ou nas mesas de um bar.
Descobri que a verdadeira cidade pulsava, não acima das nuvens, não no seu topo, mas sim naquele chão simples, onde a vida é feita de encontros e desencontros nas suas ruas e praças, nas trocas de histórias nos balcões das tradicionais casas comerciais, nas despedidas na velha estação e nas conversas com vizinhos no cair da tarde, nas ruas em frente aos portões.
Não havia noite nem dia, enquanto caminhava pelas suas ruas de paralelepípedo, porque tudo era memória: cada esquina me devolvia um tempo, cada rosto guardava um pedaço de eternidade, trazidos pelas brisas noturnas em noites de luar.
E então compreendi: subir ao céu pode até enfeitar nossa fronte com flores de luz, mas é na descida, no contato com a terra natal, que descobrimos o nosso verdadeiro centro de gravidade, o repousar da nossa alma, o verdadeiro bater acelerado do coração.
E para mim, esse lugar, esse chão, esse sagrado pisar na terra, tem nome: chama-se São Manuel.
José Luiz Ricchetti – 25/08/25